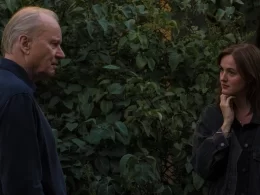Quando assisti o filme Queer, dirigido por Luca Guadagnino, pensei, com total modéstia, ter cunhado o termo “gay gaze” — ou, para ser mais original, gayze. Esse léxico seria um contraponto ao “male gaze” (olhar masculino), que foca no ponto de vista heteronormativo e masculino, e faria referência à perspectiva e à maneira como indivíduos ou comunidades LGBTQIAPN+, especialmente gays, observam e interpretam o mundo, a arte, a mídia e as representações culturais.
No contexto do gayze, a ênfase estaria na representação e na valorização de corpos, comportamentos, relações e desejos que fogem das normas heteronormativas. E, em meio a uma narrativa em quatro partes, é que Guadagnino faz um uso — já carimbado em outros de seus filmes, como Me Chame Pelo Seu Nome (2017) e Rivais (2024) — caprichado dessa artimanha.

Queer (termo em inglês que, em português, seria equivalente a “bicha”) é uma adaptação, feita por Justin Kuritzkes, da obra literária de mesmo nome, publicada em 1985 pelo escritor da chamada “geração beat”, William S. Burroughs. O livro, que na verdade foi escrito em 1952, conta a história do alter ego de Burroughs, William Lee (Daniel Craig). Viciada em opióides, a personagem principal se muda dos Estados Unidos para o México, onde passa a viver da escrita e da embriaguez — esta quase sempre abastecida no bar Ships Ahoy. É lá que, em um dia comum de bebedeira, Lee se encanta por um homem esguio, jovem e elegante.
A partir desse momento, Lee fica obcecado. Eugene Allerton (Drew Starkey) passa a ser o norte de sua vida, que é cada vez mais permeada por drogas e álcool. Em uma mistura de amizade e romance (se é que assim se percebe o comportamento de Eugene), o escritor conta para o jovem sobre sua obsessão pela planta yagé, usada para produzir ayahuasca. Após ler em uma revista é que Lee ficou sabendo da existência desse psicotrópico, que é referido como um capacitante mental para desenvolver telepatia. Desejando a companhia de sua paixão, Lee convida Eugene para partir em uma aventura pela América do Sul, em busca da tal yagé.
Acontecimentos, falas e frames permeiam essa narrativa, resultando em um longa metragem de 2h15. E põe longa nisso: ao assistir ao filme, a sensação é de que ele é eterno. Talvez seja pelo desdém ambiguamente interpretado por Drew Starkey. Quem sabe pela falta de parcimônia que Daniel Craig introjeta em sua atuação — que o desprende completamente do estigma espião que o ator conquistou após interpretar James Bond, o agente 007, em cinco obras cinematográficas. O lado bom é que, mesmo se perguntando se o filme está prestes a acabar ou se ainda faltam alguns minutos, cada cena é de uma maestria artística característica dos filmes de Guadagnino. Cores, enquadramentos, jogos de câmera e representações oníricas compõem essa estética, talvez até mais aguçada que a dos filmes que precedem Queer.
Mas precisamos mesmo falar sobre a trilha sonora. Apesar de se localizar, temporalmente, entre o momento em que o filme é ambientado e os dias atuais, as faixas de Nirvana (que figura com três composições: “All Apologies”, interpretada por Sinéad O’Connor, “Come As You Are” e “Marigold”), Prince (que fica em segundo lugar, com duas faixas: “17 days” e “Musicology”), New Order e Omar Apolo (que faz uma rápida aparição em uma noite de amor com Lee), parecem se encaixar completamente à obra. À primeira escuta, causa um estranhamento, mas ele é rápido o suficiente para o espectador esquecer que esse incômodo já esteve ali em algum momento. Faixas à parte, o restante da trilha sonora que acompanha Queer é assinada por Trent Reznor e Atticus Ross, nomes já conhecidos pelo público e por Guadagningo, que convidou a dupla para repetir o trabalho — indicado ao Globo de Ouro — feito em Rivais.
Entre corpos nus, tequila, romances unilaterais, música, vícios, psicodelia e o bioma amazônico, o gayze de Queer garante que o espectador não termine o filme sem apreciar a composição exuberante que a obra traz. Dá até pra esquecer que o filme lança mão de queerbaiting em quase a totalidade das cenas homoeróticas.